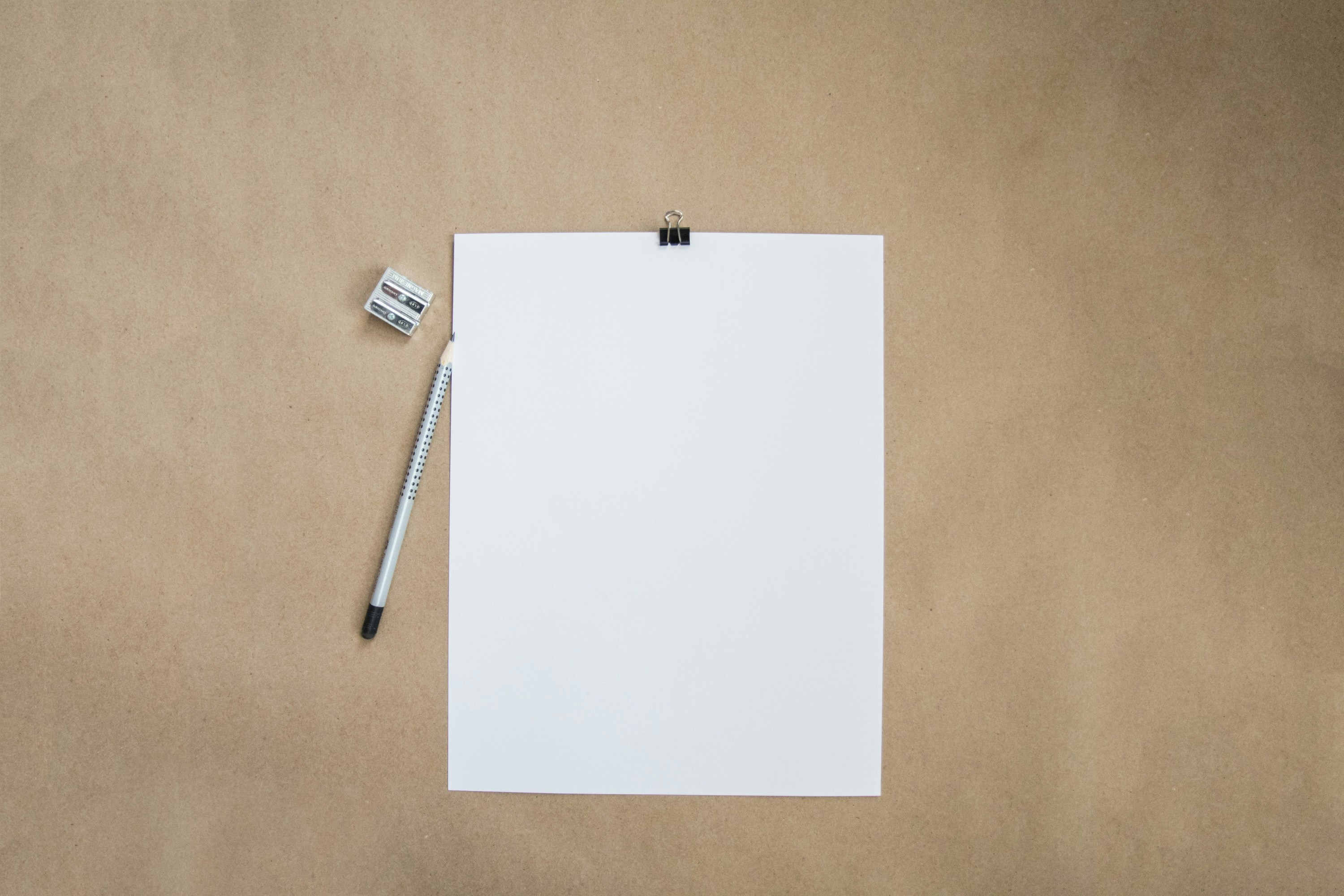Por que tantas pesquisas organizacionais falham e como evitar decisões baseadas em dados frágeis
Raissa Damasceno
Autor
A pesquisa organizacional é um dos instrumentos mais comuns e, paradoxalmente, mais frágeis de que as empresas dispõem para compreender seu próprio clima interno. Na superfície, o processo parece simples: aplicar um questionário, compilar as respostas e agir. Na prática, é uma cadeia de etapas interdependentes, cada uma com expectativas, armadilhas e riscos que, se ignorados, transformam a iniciativa em um ritual corporativo sem impacto real.
Da decisão ao diagnóstico: o início do problema
O ponto de partida quase nunca é neutro. A decisão de aplicar uma pesquisa raramente nasce de uma curiosidade genuína sobre o estado da organização. É mais comum que seja motivada por pressão da liderança, pela tendência de mercado (“todas as empresas fazem”) ou por um gatilho interno como alta rotatividade, queda percebida no engajamento ou aumento de reclamações.
A expectativa declarada é clara: “Vamos entender o que está acontecendo e agir com base nos dados.” O problema é que, muitas vezes, não há clareza sobre o que exatamente será feito com os resultados. Sem essa definição, a pesquisa corre o risco de se tornar um evento protocolar, repetido anualmente para preencher um calendário, mas sem gerar mudanças estruturais.
A construção do questionário: onde tudo pode se perder
A segunda etapa, elaboração das perguntas, é o ponto mais crítico e, ao mesmo tempo, o mais negligenciado. Muitas empresas recorrem a modelos prontos, copiados de outros contextos, ou pedem à inteligência artificial que gere uma lista de questões. É a armadilha da eficiência aparente: ter um conjunto de frases bem escritas que “soam certas” não significa ter um instrumento válido.
Exemplos não faltam. Perguntas como “Você está satisfeito com o seu trabalho?” são vagas: para um colaborador, “satisfação” pode significar salário; para outro, autonomia; para um terceiro, relacionamento com a liderança. Já itens como “A comunicação na empresa é boa?” embutem julgamento subjetivo sem especificar o que se entende por “boa” — frequência, clareza, transparência ou qualidade do canal. Em ambos os casos, as respostas resultam em médias que parecem objetivas, mas que na prática misturam percepções distintas e impossíveis de comparar.
É aqui que entra a psicometria, o campo da ciência que estuda a medição de características humanas, como atitudes, percepções e habilidades. Ela oferece métodos para garantir que as perguntas realmente meçam o que se propõem a medir (validade) e que produzam resultados consistentes ao longo do tempo (confiabilidade). Sem essa base, o dado produzido é apenas um número decorativo.
O risco é evidente: um questionário genérico pode produzir índices elevados de “clima” ou “engajamento” enquanto ignora problemas centrais, como sobrecarga, conflitos entre áreas ou ausência de reconhecimento.
O desafio da comunicação e da coleta
Mesmo um questionário bem construído pode fracassar se a comunicação interna falhar. A expectativa é mobilizar o maior número possível de colaboradores, mas a realidade pode ser de desconfiança (“essa pesquisa não vai mudar nada”), medo de exposição ou simples indiferença. Essa percepção afeta diretamente a adesão e a qualidade das respostas.
Na coleta, a questão é ainda mais sensível. Viés de desejabilidade social, responder o que parece mais aceitável, e viés de aquiescência, concordar com tudo sem refletir, são comuns e raramente controlados. O resultado é um conjunto de dados que não representa a realidade, mas sim uma versão filtrada, menos incômoda para a organização.
Resultados que não iluminam
Ao receber os resultados, espera-se clareza e objetividade. O que se encontra, com frequência, são relatórios com indicadores genéricos, difíceis de interpretar, e sem conexão clara com o contexto da empresa. A atenção se concentra no índice final (“nossa nota é 78”), enquanto as causas subjacentes permanecem invisíveis. É como avaliar a saúde de um paciente apenas pela temperatura: um número pode indicar que algo está errado, mas não diz o quê.
A barreira da liderança e a execução ineficaz
Quando os resultados chegam à liderança, duas reações são comuns: leitura superficial ou defesa imediata diante de dados incômodos. Em ambos os casos, a consequência é a mesma: bloqueio de ações estruturais. Sem patrocínio ativo, qualquer plano subsequente perde força.
E mesmo quando um plano de ação é elaborado, ele muitas vezes se traduz em medidas genéricas, desconectadas do diagnóstico real, como treinamentos que não respondem à causa do problema, campanhas de comunicação que ignoram questões de carga de trabalho ou gestão. O impacto é mínimo e a percepção de inutilidade da pesquisa se reforça.
O retorno ao time e a credibilidade do processo
A devolutiva aos colaboradores é uma etapa frequentemente negligenciada. Sem comunicação clara sobre o que foi identificado e quais ações serão tomadas, instala-se o descrédito. Na reaplicação futura, a adesão tende a cair, e com ela, a qualidade dos dados. O ciclo se repete: baixa confiança, baixa participação, dados fracos, decisões frágeis.
O elo central: a robustez do instrumento
O que une todos esses problemas é a fragilidade do instrumento de medição. Um questionário mal adaptado ao contexto, sem validação e sem calibragem adequada, compromete toda a cadeia de valor da pesquisa.
O erro não está apenas nas perguntas, mas na ausência de um processo que assegure clareza, abrangência e coerência interna.
A inteligência artificial pode ter um papel positivo nesse processo: sugerir perguntas iniciais, agrupar respostas abertas, adaptar linguagem para diferentes públicos. Mas não substitui a validação psicométrica, a compreensão do contexto e a capacidade de calibrar a sensibilidade e a dificuldade das questões.
Transformar em medidas confiáveis o que a IA produziu continua sendo trabalho humano especializado.
Os riscos de confiar em instrumentos ruins
Um questionário mal construído compromete todo o processo de tomada de decisão.
Quando as perguntas não são claras, não estão adaptadas ao contexto da empresa ou não passaram por validação, os dados obtidos perdem valor prático. Isso pode gerar diagnósticos equivocados, como identificar que o engajamento está alto quando, na realidade, há setores em crise. Também pode levar a ações desalinhadas, investindo tempo e recursos em iniciativas que não atacam a causa real do problema.
Além disso, questionários mal formulados reduzem a credibilidade do processo. Colaboradores percebem inconsistências ou generalizações excessivas e passam a responder de forma menos séria ou engajada.
A consequência é uma base de dados viciada, que prejudica análises comparativas ao longo do tempo e inviabiliza benchmarks externos.
Essas falhas afetam diretamente a estratégia organizacional. Decisões sobre alocação de orçamento, programas de desenvolvimento, políticas de retenção ou mudanças culturais tomadas com base em informações imprecisas resultam em desperdício de recursos e no agravamento de problemas que poderiam ter sido resolvidos com um diagnóstico mais rigoroso.
Pesquisas de clima, engajamento ou liderança só têm valor se o instrumento que as mede for sólido. Na prática, isso significa resistir à tentação da rapidez aparente e investir no processo de validação.